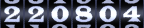O desassossego da emissão conservadora com a saída de Helena Chagas, da Secom, não diz algo apenas sobre a ex-ministra egressa das Organizações Globo, e que por mais de quatro anos esteve à frente do órgão que centraliza a comunicação e o orçamento de publicidade do governo federal.
O alarido em colunas e gargantas adestradas no varejo dos recados patronais expressa, ademais, o entendimento consuetudinário que as grandes corporações do setor nutrem em relação a essa pasta.
- Se é preciso mexer, que seja para nada mudar, adverte o ectoplasma dos interesses que se avocam a indivisa prerrogativa sobre a opinião pública nacional.
O dispositivo midiático relaciona-se com a Secom na mesma chave hierárquica através da qual o mercado financeiro busca impor sua soberano ao BC. Equivale ao tratamento dispensado pelos oligopólios regulados às agencias regulatórias, por reles capturadas.
Tudo se passa como se a esfera pública lhes devesse a fidelidade própria de uma extensão dos interesses privados.
Essa é a natureza dos recados disparados ao governo por ocasião da saída de Helena Chagas da Secom.
Equivale aos avisos intimidativos que gangues enviam à chegada de novos moradores no quarteirão.
Justiça seja feita, há coerência com o que se estampa e se emite a título de noticiário.
Importa, assim, discutir o outro lado.
O problema maior é a eficácia –razoavelmente alta—que esse comportamento tem obtido.
Há quem tema que o sucesso se repita agora, mergulhando-se a mudança na Secom em um formol de busca de indulgência composto de mais do mesmo.
Que um governo progressista, há mais de uma década à frente do Estado, não tenha formado ainda um consenso quanto a necessidade de tornar mais ecumênico o sistema de comunicação do país, configura um mistério que até mesmo os dilatados limites das alas moderadas da esquerda não conseguem mais aceitar.
Muito das hesitações petistas nessa esfera pode ser atribuída à percepção de uma correlação de forças adversa, que impõe a estrita seleção dos confrontos a enfrentar.
A avaliação teria excluído das prioridades do governo Dilma o projeto de regulação das comunicações audiovisuais preparado pelo ex-ministro Franklin Martins.
O texto dorme no berço esplendido da gaveta do ministro Paulo Bernardo, mas embalado por ordens superiores.
Há uma inércia histórica que explica –ou pelo menos explicou até a crise do chamado mensalão— comportamento dos governos petistas nessa área.
O PT nasceu há 34 anos, em fevereiro de 1980.
Veio ao mundo com a simpatia abrangente dos jornalistas brasileiros.
As greves históricas dos anos 70 e 80 no ABC paulista magnetizaram as redações e toda uma geração de profissionais formada na resistência à ditadura.
Os levantes metalúrgicos criariam o sujeito histórico do novo período acalentado.
São Bernardo do Campo simbolizava o protagonista e o lugar da mudança.
Era uma pauta de apelo avassalador.
Estabeleceu-se uma camaradagem solidária entre repórteres e os destemidos metalúrgicos de Lula. A intimidade com o baixo clero das redações trouxe apoios, informações e contatos.
Era um tempo em que a luta operária carecia de escala e organização política.
A proximidade com os jornalistas - muitos dos quais renunciariam a cargos e carreiras para se engajar na luta sindical e depois, na do PT - criou também ilusões.
O trânsito fácil com a imprensa sugeria haver espaço a ocupar na grande indústria da notícia. Formou-se um consenso: a margem de manobra existia, bastava habilidade, certa moderação e bons contatos para explorá-la.
Marcaria uma inflexão nesse entendimento a derrota para Collor em 1989.
A Globo editou o debate final da campanha; deu quase dois minutos adicionais ao 'caçador de marajá' no compacto que levou ao ar no Jornal Nacional; estigmatizou as falhas de Lula, selecionando-as em contraponto aos melhores momentos do rival.
O alerta foi claro, mas não construiu uma novo diagnóstico político a ponto de renovar a agenda em relação ao aparato midiático.
Pesaria mais naquele momento a autocrítica das falhas da campanha do que a percepção do novo adversário de peso.
Foi um erro.
Não era qualquer adversário, mas aquele que aos poucos se revelaria com poderes para exacerbar a relação de forças e disposto a fazê-lo --até o limite da manipulação, se necessário.
A 'união' nacional no impeachment de Collor, ato contínuo à derrota, e a vitória em 2002, num ambiente de hostilidade aberta, mas contrastado pelo racha que a inoperância tucana promoveria no interior do próprio empresariado, mitigaram o conflito entre as convicções históricas do partido e a postura abertamente anti-petista da mídia.
A liderança de massa de Lula atingiu seu auge então reverberou no país durante os oito anos em que esteve à frente de um governo exitoso no plano social e econômico.
O prestígio esmagador dentro e fora do país empalideceu o cerco midiático e coagulou o debate sobre o tema da comunicação no interior do partido.
Parecia desnecessário.
Lula falou todos os dias, algumas vezes por dia, durante os 2.920 dias em que exerceu a Presidência da República.
O instinto político comandava a garganta.
A voz rouca abria espaços na opinião pública estabelecendo uma linha direta com o imaginário popular, a contrapelo da má vontade dos veículos de comunicação.
Não eram apenas palavras ocas, como alvejavam os editoriais raivosos. Elas carregavam resultados de políticas bem-sucedidas que entravam na casa dos mais humildes, sentavam-se à mesa, mudavam a rotina do país, redesenhavam as fronteiras da produção e do consumo de massa.
A mídia era obrigada a repercutir e Lula falava sem trégua.
Pautava a conversa nacional: era uma estratégia militante de ocupação de um espaço que se tornara esfericamente adverso. Eles chamavam a isso de 'lulo-populismo'.
Paradoxalmente, a exuberância oratória de Lula –ancorada em êxitos econômicos robustos-- veio revalidar a ingenuidade dos que ainda apostavam na existência de um espaço de tolerância no interior das redações.
Escaparia a esses dirigentes petistas a brutal transformação em marcha no interior da mídia e na própria composição das redações.
Ao longo de duas décadas de polarização política entre a agenda afuniladora do neoliberalismo e as urgências sociais do país, o ambiente jornalístico sofreria uma mudança qualitativa de pauta, estrutura e composição profissional.
A tentativa de impeachment de Lula em 2005, já no ciclo da chamada crise do 'mensalão' - que culminaria em novembro de 2012 com o linchamento e a condenação à prisão justamente de lideranças históricas e pragmáticas do partido-- sacudiu a inércia petista com força, pela primeira vez.
O espaço de tolerância acalentado ainda por emissários autonomeados, que traziam recados dos donos da mídia sobre o preço a pagar por uma trégua, perdeu eco na cúpula do governo.
Lula recorreria ao movimento sindical em 2005. A palavra 'golpe ' foi entronizada no discurso da resistência - para horror dos que insistiam em um acordo com o dispositivo que costurava a derrubada do governo.
A reeleição em 2006 quando se imaginava que o Presidente sangraria até morrer, e o êxito em eleger a sucessora, em 2010 --que termina seu mandato assentada em trunfos suficientes para ser reconduzida ao cargo-- evidenciariam ao conservadorismo, em contrapartida, a importância crucial de preservar a sua única vantagem verdadeira no embate: o quase monopólio midiático.
Instalou-se, progressivamente, um "termidor" nas redações.
A fratura acalentada originariamente pelo PT, entre o baixo clero feito de jornalistas solidários e as direções conservadoras, foi cicatrizada a ferro e fogo com depurações e rupturas nos últimos anos.
A última purga da década foi feita recentemente no jornal Valor Econômico.
Profissionais íntegros e isentos continuam a existir nas redações.
Mas os sistemas de controle, a pauta e o torniquete da edição, sob comando de robespierres que compartilham do diretório demotucano, esmagaram o espaço da isenção, sem o qual não há contraditório.
A mídia como ambiente democrático permissivo à formação da consciência crítica e progressista da sociedade brasileira deixou de existir no país.
Pouca dúvida pode haver de que isso ameaça a democracia e a equidistância das instituições, do legislativo ao judiciário.
A percepção dessa ruptura, e os desdobramentos políticos que ela acarreta, cristalizou-se no linchamento midiático que subordinou as togas à cenoura dos holofotes, no julgamento da Ação Penal 470.
A tradição acomodatícia do PT em relação à chamada grande imprensa - seu descuido histórico com iniciativas para contrapor pluralidade ao monólogo - tornou-se perigosamente anacrônica.
Quando a Presidenta Dilma diz que prefere o excesso de uma mídia ruidosa ao silêncio das ditaduras, por exemplo, não está dizendo –como se viu acima-- nada de novo para a história do PT.
Mas a frase soa insuficiente para as circunstâncias que se modificaram.
O PT sempre perfilou entre os partidos pluralistas, antagônicos à voz única, ao poder absoluto e à intolerância ideológica ou religiosa.
O que se discute agora é outra coisa.
Como fazer prosperar a democracia, o senso crítico e a pluralidade num ambiente em que um poder não eleito e sem rival à altura em sua abrangência e decibéis, dá voz de comando até mesmo à Suprema Corte --diz quem deve ou não ser julgado, como, com que precedência, a forma como deve cumprir a pena e onde?
A investida algo abusada e intimidadora sobre a Secom, após a saída de Helena Chagas, ilustra a determinação de um apetite pantagruélico que não saciará com a tradicional busca de indulgência, advogada por áreas conservadoras do PT.
Como contrapor a esse ruído despótico um contrapeso equivalente de vozes democráticas?
Essa é a pergunta que a mídia jamais fará à Presidenta Dilma.
Nem por isso a história a exime de responder.
A intimidação em curso tem como meta consagrar o interdito da publicidade federal aos sites e blogs progressistas, aqueles que semeiam a referência de um ponto de vista alternativo ao círculo de ferro conservador.
Por certo, a Presidenta Dilma não convalida em sua concepção de ruído democrático a narrativa de uma nota só evocada por esse jogral, que sobrepõem a liberdade de empresa à liberdade de expressão.
Não se pode mais declinar de dar às consequências as suas causas.
As causas da crispação autoritária que lateja na vida política do país decorrem em grande parte do desequilíbrio avassalador cristalizado no seu sistema de mídia e comunicação.
Não enxergar o óbvio é pagar a crediário o suicídio político.
Um governo democrático, que pretende fazer do Brasil um país de classe média - supõe-se que não simplesmente de consumidores de tablets, não pode mais lutar a batalha do dia anterior.
A disjuntiva que se coloca não é mais entre autoritarismo/aparelhismo ou monólogo conservador, como quer o capcioso enunciado da emissão dominante;
Não estamos nos anos 60 ou 70.
Estamos diante de um aparato claustrofóbico de difusão que se avoca o direito de enclausurar a formação da opinião pública brasileira e de interditar o debate –crucial nos dias que correm-- sobre o passo seguinte do desenvolvimento brasileiro.
Não se constrói um país de classe média esclarecida sem as condições efetivas ao esclarecimento e à formação da consciência crítica.
Não basta o crédito à aquisição de computadores, celulares etc
É obrigação de governo, também, assegurar espaço para que seu conteúdo seja plural e democrático.
Disputar as expectativas, em certos momentos, é tão decisivo quanto ajustar as linhas de passagem entre um ciclo econômico e outro.
Esse é um desses momentos.
E isso requer um novo entendimento de comunicação do governo.
A Secom pode exprimi-lo com equidistância e lisura.
Há uma prova de fogo no caminho: não se submeter à intimidação dos que se avocam a prerrogativa de fixar critérios --e limites implícitos-- do que seja uma política democrática de comunicação para a sociedade brasileira hoje.